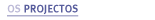Maria Alzira Seixo
A obra literária de António Alçada Baptista compõe-se na aliança entre ficcionalidade e uma muito pessoal disposição para o discurso interior. É quase certo que a maioria dos romancistas age em literatura de acordo com tais parâmetros, em doses variáveis, mas menos certo é que um deles não esteja encoberto por uma maior dimensão atribuída ao outro; e, nos casos em que a interioridade avulta, a ficção tinge-se de autobiografia ou memorialismo, de escrita intimista ou de uma mais ou menos incerta personalização da narrativa.
Entendo aqui por discurso interior as formas de dizer por escrito que dão conta da expressão descritiva ou reflexiva do eu, colocando em acção o processo próprio do pensamento. Isso pode fazer-se mesmo quando se escreve um romance, em graus diversos que vão da interferência do narrador, representada ou pragmatizada, à problematização de questões na terceira pessoa, ou na actuação verbal de qualquer personagem. Muitos dos livros de Alçada Baptista entram nesta categorização, e penso que para bem os entender beneficiamos com a releitura de Peregrinação Interior, volume que em 1971 o consagrou, despertando os interesses díspares e controversos que são sinal das obras importantes. A escrita memorialística é talvez o mais nobre dos modos literários na primeira pessoa, porque emerge da subjectividade sem a qual nada se faz, mas convoca todo um tempo de época, história comunitária, confronto de gerações e consciência da distância interior que preenche (ou deixa em vazio) a reflexão sobre os acontecimentos, com raízes num espaço amplo e multímodo que integra primacialmente a terra e o homem que nela vive.
A Peregrinação de Alçada Baptista, justamente subintitulada «memorial», inspira-se em Fernão Mendes Pinto, para sublinhar o imenso périplo territorial feito pelo aventuroso navegador (a sua qualidade de «homo viator»), que na escrita porém se subordina a dois propósitos maiores: a preservação do exemplo para o futuro (escreve para legar a experiência aos filhos) e a exibição da existência humana em diálogo contingente e provocante com a transcendência. «Reflexões sobre Deus» é o título desdobrado da Peregrinação de Alçada (que também remete para o Garrett das Viagens e seu émulo Xavier de Maistre), que se propõe integrar na apreensão do divino a dimensão ética do homem, entendendo-a de forma polémica e de modo poeticamente intrasubjectivo em relação às questões básicas do quotidiano. Este Deus é visto da terra, mas o percurso do homem, nos seus passos cruciais concretos, só pode apreender-se e interrogar-se quando o concreto se formula na linguagem que dá a abstracção do pensamento. E «aquilo a que chamou Deus por não encontrar nome melhor» pode ser entendido como a instância que permite uma abertura do indivíduo à interrogação, de modo personalista e aceitando o irracional, e onde, a par da «vocação profunda para o mistério» (que por ser pensado se diferencia do obscurantismo), se encontra «a dúvida, a dor, a criação e a alegria».
Estas «reflexões» podem privilegiadamente produzir-se, para Alçada Baptista, na expressão literária, e bebem muito mais em escritores e filósofos do que em teólogos ou nas hipóteses da psicologia. Montaigne dá-lhe a matriz indicativa da diversidade do homem, Rousseau a do entendimento da natureza e da autenticidade em detrimento do artifício, Borges a da qualidade da escrita, e Miller a do desvendamento do pudor contra a hipocrisia. Assim, esta peregrinação, que corresponde a um vaguear ao acaso, mas com penetração de espírito, pelos locais fundos da alma (naquilo em que a alma se empenha pelo viver concreto ou dele recebe os ecos que a tocam), ampara-se à Peregrinação do grande clássico quinhentista, mostrando, em homenagem, que a sua metáfora da errância mundanal recai na motivação (que lhe é originária) do sagrado, atribuindo o valor primacial da indagação à arte da literatura.
A noção de território não corresponde pois, nesta perspectiva de leitura, apenas à radicação na terra das situações existenciais desenvolvidas, e ao seu concreto diálogo de alimento com o indivíduo, mas ainda a uma concepção do pensar e sentir (e agir em função disso) que dá conta das etapas da existência em relação a lugares mais ou menos determinados (a família, a educação, a Igreja, o ofício, os costumes) e mais ou menos misteriosos e indecidíveis: o «memorial» que o livro constitui é designado, ainda no subtítulo, como o do «combate que Jacob Alçada Baptista vem travando com o anjo que lhe foi atribuído», em reconhecimento e descoberta, tal como nas explanações de Fernão Mendes Pinto sobre os vários tipos de mentalidades que concretamente localiza e dão azo a um mais exíguo (mas de largíssimas consequências culturais) território interior.
A representação agónica é assim constante na obra de Alçada, manifestando-se em espírito crítico (que é politicamente desinvestido no plano social mas profundamente cometido na esfera pessoal e comunitária restrita) e na desmitificação de modos de comportamento herdados ou, se inovadores, que anexem efeitos quaisquer de clausura. Mas é uma representação agónica dada em expectativa de serenidade, comunicando, muito mais que o desconcerto do mundo ou uma forma de heterodoxia, uma espécie de desacerto entre o eu e a circunstância, ou entre a circunstância e a natureza que o indivíduo deve seguir para segurar os seus calores fundamentais: verdade, liberdade, simplicidade, amor e anseio de infinito. A verificação deste desacerto conduz à parenese inquieta, que é busca no viver com os outros, porém só possível a partir de um viver consigo mesmo; e a agonia e o desajuste tentam resolver-se na lembrança de ideais do passado (fundar uma ordem, como os santos, ou uma horda, como os fora-da-lei...; navegar ao acaso no orbe, como Mendes Pinto), aceitando-se em irresolução vital de proposta de aventura, algum despojamento, a rejeição da dor desnecessária e a sedução da marginalidade.
O marginal de Alçada Baptista corresponde ao ideal da vida subtraída a princípios da «doxa» e a preconceitos sociais: na sua crítica a mitos esclerosados da Igreja declara, por exemplo, que «não grama os pobrezinhos» (em páginas de grande interesse memorialístico e documental sobre esse tipo de apostolado de então) nem a existência admiradamente sofredora, porque prefere «pôr em comum nossas abundâncias e não nossos gemidos»; e vai mais longe, em verificações que, hoje em dia, ganham maior significado: «A sociedade ocidental, capitalista ou socialista, só sabe organizar a vida dos seus cidadãos para o trabalho ou para o saber que a serve, não a organiza decerto para participar, amar, conhecer e criar» (sublinhado meu).
A lucidez e uma certa forma de desengano tranquilo guiam estas reflexões sobre Deus, que são afinal reflexões sobre a consciência humana da incompletude que se preenche com a íntegra serenidade de viver, a que Alçada chama também a salvação. Deus é essa forma de complementação atribuída ao sagrado para de algum modo preencher o vago de alma do indivíduo, ou para prolongar o algum sentido que ele por vezes consegue construir. Emendando a grande forma de oclusão que este espírito de abertura também enfrenta, dizendo com Montaigne que pensar é aprender a morrer. Assim o território interior se percorre no saber usar o tempo, vivendo a aventura, em formas espiritual e materialmente criadas de marginalidade («para não ser corroído pelo absurdo ou pelo absinto») e cultivando o apego, a dedicação, as formas do amor: «Não estou interessado em viver sobre qualquer forma de ódio, quer ele se faça virtuoso e puritano, quer se disfarce de revolucionário e criador», é talvez a sua palavra mais sábia. O autor de Os Nós e os Laços oferece-nos a autenticidade de uma vida de pensamento e criação literária, representando uma das formas mais ricas da actuação humanística entre nós nas últimas décadas.
Maria Alzira Seixo