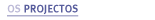Marcos Vinícios Vilaça
“Alçada é um dos nossos”, assim o qualificamos, nós, os da Academia Brasileira de Letras. Todos o admiramos, todos queremos um bem danado a ele. E não fazemos outra coisa que não seja exercitar a reciprocidade.
Em 86, a um jornal paulista declarou: “Há quatro anos que não vou a Paris e ao Brasil no mesmo período já vim 17 vezes. Isto porque, sem nenhuma demagogia, eu vejo que os trópicos, o Brasil, é que são o futuro. Aqui, no Brasil, também senti a experiência nada erudita, mas humana e real, da dimensão gigantesca da língua portuguesa” .
António Alçada Baptista tinha a compreensão exata de que ao Brasil não cabia apenas a contemplação do que significasse a lusofonia mas que a nós estavam cometidas as dores e a delícia da ação.
Este respeito ao homem e à obra, Jorge Amado, nosso confrade daqui e de lá, da Academia Brasileira e da Academia de Ciências de Lisboa, resumiu assim: “Escritor e homem de bem, doce e decente criatura, culto como ele só, expõe e discute o mundo e tudo quanto nele aconteceu nos últimos anos – da sociedade feudal portuguesa à explosão estudantil de 1968, dos misticismos do Oriente ao movimento hippie e à libertação sexual, sem esquecer os dilemas do catolicismo e do consumismo e a essência de Deus. Tudo. Tudo, absolutamente tudo”.
Festejamos, daqui, o nosso Alçada, oitentão, a lembrar a justeza do dizer de Torga: “o renome é o salário do triunfo”.
O Padre Vieira ensinou que ao nascer somos filhos dos nossos pais e, mais tarde, de nossas obras. A obra de Alçada, feita de livros e de amigos, do local sem localismos, do universal sem tirar os pés do chão, exercita essa paternidade.
Sabemos que nele se encarnam com perfeição os versos de Manuel Bandeira no objectivo que nos afivela e descortina gestos:
“Enquanto o ferro ecoar no monte da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas e soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados”.
Presidente da Academia Brasileira de Letras