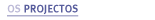José Domingos Morais
Eu sempre gostei de livros e sempre gostei de ler. As cidades que ao longo da minha vida visitei, recordo-as pelos seus teatros, pelas suas igrejas, castelos, palácios e museus, pelas árvores dos seus jardins, pelos rios que as cruzam ou o mar que as beija, pelas pedras das calçadas e pelos cheiros das ruas. E também pelas suas livrarias!
Em Lisboa, nos anos cinquenta do século vinte, as livrarias situavam-se todas ou quase todas no Chiado e nas ruas da Baixa. Não havia centros comerciais e a Avenida de Roma era campo ou azinhaga. Na Rua da Assunção, no número 49, abria-se a porta da Morais, livraria velhinha que um jovem licenciado em direito, cinco ou seis anos mais velho que eu e chamado António Alçada Baptista, recentemente adquirira e geria com ternura e o cuidado de proporcionar a quem se interessasse a ocasião de folhear e comprar não só as obras da literatura clássica nacional, mas ainda tudo o que as novas gerações e poetas e novelistas iam criando e cujas edições não poucas vezes adquiriam estatuto de raridade, por força da intervenção censória que, sem avisos nem cerimónias, procedia a operações de apreensão. As obras que sofriam tal vexame passavam a ser referidas em outros livros do autor, na página indicativa da respectiva bibliografia, com a sucinta e misteriosa indicação fora do mercado.
Na Morais era também possível encontrar, sem muito vasculhar e nada perguntar, a poesia, o romance e o ensaio de autores estrangeiros de língua francesa ou traduzidos em francês que, se porventura se apresentassem em português, por certo não escapariam ao olhar rigoroso da censura e seriam pura e simplesmente proibidos.
Nós frequentávamos a Livraria Morais e, quando podíamos, comprávamos livros. Nós era um grupo de estudantes universitários, de diversas Faculdades, que partilhavam o gosto pela literatura e pela arte, professavam uma arreigada fé cristã e nutriam pelo Estado Novo um profundo desprezo. O grupo criara um cineclube (associações culturais que ao tempo estavam na moda) denominado CCC – Centro Cultural de Cinema. Muitos dos seus participantes colaboravam no Encontro, publicação periódica editada pela JUC – Juventude Universitária Católica. O grupo era olhado com desconfiança e talvez alguma apreensão pela hierarquia eclesiástica que, de perto ou de longe, acompanhava discretamente a sua actividade. Se o CCC singrava com razoável autonomia, a participação no Encontro, que era limitada e exercida com cautela, não nos satisfazia. Tornava-se forçoso construir uma alternativa.
Não sei a quem cabe o mérito de, pela primeira vez, ter formulado a ideia de lançar uma revista de pensamento e cultura que fosse interveniente, moderna e de esquerda, fiel aos valores do humanismo cristão, aberta ao diálogo com outra ideologias e procurasse evidenciar que a alternativa ao corporativismo totalitário do Estado Novo não era necessariamente um totalitarismo de esquerda. Talvez na longa série de artigos repletos de informação, que João Bénard da Costa, um de nós, escreveu há anos para o defunto O Independente, venha identificado o rapaz da ideia. O certo é que ela surgiu e desde logo ficou assente que a revista, a ter modelo, o modelo seria o da congénere francesa Esprit, dirigida por Emmanuel Mounier.
Ora acontecia que, na Livraria Morais da Rua da Assunção, se podiam ver alinhadas nas suas prateleiras obras ensaísticas de Mounier e outra gente que se movia na órbita da Esprit. Creio bem que a própria revista aí se podia adquirir ou, pelo menos, encomendar. E como uma revista manuscrita para pouco mais que nada serviria, tornava-se necessário editá-la e dinheiro era coisa que não havia, nem forma de o angariar, para fundar e manter uma editora.
Mais uma vez não sei quem foi o da ideia e talvez tenha surgido naturalmente no decurso das discussões. A solução ideal seria associar António Alçada Baptista ao projecto e, consequentemente, a sua Livraria Morais.
Não houve consenso, mas sim unanimidade: António Alçada era o homem a convidar. Porém, ninguém o conhecia pessoalmente, embora todos o tivessem visto na Livraria. Por razões meramente circunstanciais, provavelmente relacionadas com os horários escolares, fui eu o escolhido para me deslocar à Morais, abordar o António Alçada, expor sucintamente e do modo mais aliciante possível o nosso projecto e solicitar um encontro formal para definir os objectivos e termos da colaboração a encetar.
Assim, dois ou três dias após a decisão, cerca do meio-dia, meti-me a caminho da Baixa e, no número 49 da Rua da Assunção, entrei na Livraria Morais. Folheei uns livros, passeei o olhar pelas estantes e, ao ver o meu alvo e proprietário liberto, aproximei-me e interpelei-o: “É o Dr. António Alçada Baptista?”
Depois de me apresentar como cliente, lá fui debitando o discurso preparado em que falei do grupo, do cineclube, do jornal Encontro, da nossa admiração por Mounier, pela Esprit e pelo humanismo cristão, sem esquecer de referir o enfado que sentíamos pelo Estado Novo. António Alçada ouvia e fazia uma ou outra pergunta. Por fim, falei-lhe do nosso propósito de lançar em Portugal uma espécie de Esprit e da nossa convicção que tal só teria viabilidade no âmbito da actividade de uma editora com as características da Morais. Então quis saber quem eram os componentes do grupo. Os nomes foram saindo e eu não vislumbrava sinal de que reconhecesse algum. Enumerei o Nuno Bragança, o Pedro Tamen, o João Bénard da Costa, o Alberto Vaz da Silva, e ele nem um sorriso que desse a entender qualquer familiaridade com um só nome. Continuei com o Nuno Portas, o Mário Murteira, o José Escada, o Duarte Nuno Simões e ele nada e eu a desesperar. Disse-lhe então que aqueles nomes constituíam o que se poderia chamar o núcleo animador, mas que havia mais gente disposta a trabalhar connosco, como seria o caso do Adérito Sedas Nunes que, sendo um pouco mais velho, já iniciara a sua carreira profissional. Ainda hoje creio que foi esta a chave que abriu a porta. António Alçada ergueu os olhos e disse: “Ah! O Sedas Nunes está convosco?” Em seguida olhou para o relógio, viu que o meio-dia já ia longe, aproximava-se a hora do fecho para almoço e propôs: “Vamos almoçar. Continuamos a conversa enquanto comemos!”
Assim foi. Saímos e, descendo a Rua dos Sapateiros, entrámos no restaurante Paris. Sentámo-nos a uma mesa, um em frente do outro e o António disse: “Aqui no Paris come-se a melhor açorda de marisco de toda a Lisboa”. Para mim e até então, açordas eram alentejanas e o marisco cozido ao natural, mas achei prudente não tecer comentários. Veio a dita açorda numa espécie de grande tacho de barro onde o criado vazou um ovo cru, amarelíssimo como o eléctrico do Mário Cesariny. O homem remexeu a mixórdia com uma colher de pau e, em simultâneo, revolvia-me as entranhas. “Gosta?” perguntou ele. “É bem bom!” respondi a contra gosto embora não inteiramente desagradado.
Enquanto eu me debatia com a minha primeira açorda de marisco, que me pareceu ser para ele um regalo trivial, fomos conversando sobre livros e autores, a vida académica, os encantos e dificuldades de ser livreiro em Lisboa e aí por diante. Sempre que a ocasião se proporcionava, eu voltava à carga com o nosso projecto, a sua oportunidade e necessidade, a satisfação que teríamos em trabalhar com ele, a minha certeza de que ele, António Alçada Baptista se haveria de entender bem com todos e cada um dos membros do grupo. E ele começou a querer saber coisas de cada um, qual a licenciatura obtida ou curso frequentado, como nos tínhamos relacionado, por que razão criáramos o cineclube e com que sucesso funcionava.
Disse-lhe que o cinema fora de facto um factor de aglutinação, mas que o grupo era eclético, havendo quem se interessasse preferencialmente pela pintura ou pela poesia, pela filosofia, a economia, a arquitectura, a sociologia, o romance, o teatro; e não adoptando uma atitude exclusivamente crítica mas alguns exercendo também uma actividade criativa.
O essencial, tornava eu a acentuar, era que ele conhecesse os outros, que nos visse, sentisse o nosso entusiasmo e avaliasse a nossa determinação. E tornei a pedir-lhe para aprazar um novo encontro, mais alargado, em que já se falasse da estrutura da revista a lançar e da maneira de o conseguir.
António Alçada não respondeu. Ergueu um pouco a cabeça, olhou para o fundo da sala, sorriu e levantou-se. Eu imitei-o. Aproximava-se um senhor que eu não conhecia; cumprimentaram-se efusivamente. Em seguida apresentou-me e, virando-se para mim, disse: “É o Dr. Manuel João da Palma Carlos que acaba de regressar do exílio em São Tomé.”
Trocaram os dois meia dúzia de palavras e, por fim, António Alçada disse para Manuel João da Palma Carlos: “Estamos aqui a tratar do lançamento de uma revista de cultura, humanista e de esquerda”.
“Só os dois?” retorquiu Palma Carlos.
“E um grupo universitário cristão”.
Nesse momento fiquei a saber que a minha missão fora cumprida. Palma Carlos permaneceu uns instantes em silêncio, baixou os olhos para a mesa onde ainda se achava o tacho de barro com os restos da açorda de marisco e, com uma expressão onde transparecia algum cinismo, muito cepticismo e laivos de indulgência, exclamou:
“Rapaziadas e açordas!”
António Alçada não se desconcertou, leu o nome do restaurante na vidraça de uma janela enorme e retorquiu:
“Açordas em Paris; os rapazes na revista. Vai ver!”
Recordo-me da cena como se tivesse acontecido ontem, embora não possa jurar que o curto diálogo entre Palma Carlos e António Alçada Baptista tenha sido travado exactamente com as palavras referidas, à excepção das duas interlocuções finais: rapaziadas e açordas em Paris.
Certo é que, dias depois do meu primeiro encontro com António Alçada Baptista, dias depois da açorda em Paris, alguns de nós se reuniram com o António. Nesse encontro, em que eu não estive presente, pela mão de António Alçada Baptista nasceu O Tempo e o Modo.
Setembro de 2006
José Domingos Morais