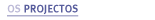Inês Pedrosa
Queridíssimo António,
Menina e moça o conheci; primeiro visitava-me através do quadradinho da televisão, a preto e branco. O meu pai dizia: «Este homem fala muito bem. E sabe o que diz, o que é muito raro. Tem inteligência e bom senso, duas qualidades que parece que se sumiram daqui para fora nas naus dos Descobrimentos». De modo que o calor inaugural que o António trouxe à minha vida foi esse, o de me pôr de acordo com o meu pai. Nessa trepidante década de setenta do século XX, o meu pai e eu nem sobre assuntos gastronómicos nos entendíamos. Ele gostava de favas, eu caí na asneira de dizer que as detestava, e imediatamente ele tratou de me obrigar a comer o faval inteiro da minha bisavó. Acreditava na educação pela contrariedade, o meu pai. Mas, nessas noites em que o António Alçada falava na televisão, amansava muito, era até capaz de fazer concessões e de não ralhar com ninguém. E fez-me ler a sua «Peregrinação Interior», que me serviu de Manual de Ética e Estética existencial – em conjunto com as «Novas Cartas Portuguesas» (que estavam escondidas na gaveta das camisas dele, e que devorei clandestinamente, por isso mesmo)
Depois, o António escreveu um livro que revolucionou a minha relação com a escrita e aprofundou a minha ligação com a vida e com os outros: «Os Nós e os Laços». Eu não sabia que o português de Portugal podia escrever-se assim, de uma forma simultaneamente comunicante e densa, táctil e espiritual, erótica e quotidiana. Verifiquei que muitíssima gente ao meu redor partilhava esse meu desconhecimento – uns, maravilhados, conversavam incessantemente sobre as conversas desses personagens valentemente conversadores, sábios e vulneráveis, feitos dos sonhos e da matéria da vida. Outros murmuravam que a vida corria escandalosamente autêntica dentro daquelas páginas, sem a solenidade estática da Nobre Literatura: se tanta gente o queria ler – e liam-no até algumas pessoas que normalmente fugiam a sete pés da leitura – a obra não podia ser senão entretenimento, mais para banda do coreto do que para orquestra sinfónica, para usar uma imagem pobrezinha que, talvez por causa da crise, está hoje muito em voga. A ideia das pessoas era assim simplista – para não dizer estúpida, que eu aprendi consigo a ser muito bem educada – em 1985, quando esse seu belo romance foi publicado. Entristece-me que, vinte anos depois, o panorama mental português continue o mesmo deserto contrastado: ou Alta e Impenetrável Cultura (genericamente, aquela que serve um público rarefeito), ou Entretenimento Impuro (aquele a que as multidões acodem). A área do romance é um território de observação particularmente fértil, no que se refere a este maníqueismo impressionista: assim que um autor começa a ser reeditado, passa de Impenetrável a Impuro – e só um sucesso de crítica no Estrangeiro-que-Importa (o dos países ricos) o pode redimir da vergonhosa popularidade nacional. Ora o António Alçada teve o azar de já ser popular antes de se tornar essencialmente escritor, e de se popularizar ainda mais depois. Perdoar-se-lhe-ia a popularidade que lhe advinha do comentário político ou aquela outra, anterior, de ter investido todo o seu pé-de-meia numa revista elegante e polémica – «O Tempo e o Modo» – , muitíssimo bem frequentada mas, como é hábito em Portugal, economicamente destinada a um sucesso póstumo, de carpideiras. Lembro-me de me ter contado que um dia uma senhora o abordou no Chiado para lhe ralhar por ter deixado morrer «O Tempo e o Modo». – «A senhora era assinante da revista?» – perguntou o António. Que não, respondeu a dama; mas lia-a de vez em quando, e achava-a «importante». «Então, se não se importa, faça a senhora agora outra revista, que eu já fiz a minha parte, e já me arruinei». Pois é, meu querido António, essa sua mania, tão pouco portuguesa, de fazer perguntas e procurar respostas, não o ajudou muito. Se queria que o considerassem um intelectual a sério, devia ter posto os seus dinheiros no recato de um Banco e sentar-se num café a dourar as olheiras e a lastimar a falta de oportunidades e de talentos deste país ingrato. Em vez disso dedicou-se, durante um largo período, a promover as obras dos outros, na direcção do Instituto do Livro. Ora semelhantes trabalhos, que implicam salários, horários, metas e objectivos, não são bem vistos pela Intelligentsia pátria. São demasiado burgueses – e ainda por cima, o António, antes, durante e depois do 25 de Abril, sempre fez gala da sua burguesia de origem. É coisa que não se usa: tias e terras, só pintadas a neo-realista negro. Para cúmulo, quando outros machamente declaravam ter dormido com os porcos, o António declarava-se lésbico e falava de valores femininos. Como é que queria que o levassem a sério?
Um dia escrever-se-á que os seus livros libertaram a língua portuguesa de cerimoniais atávicos e lhe deram uma sensualidade nova, terna, íntima e impudica. Os seus livros foram escritos para esse futuro que o António desbravou no coração dos seus leitores. Um escritor autêntico é isso: um acelerador do tempo secreto, que habita debaixo da névoa dos dias que correm. Mas como, no seu caso, existe uma coincidência estelar entre pessoa e obra, os que o amam falam de si, antes de mais, como um homem meigo e luminoso. A culpa é, também nisso, sua: infinitas vezes o ouvi dizer que a vida vale mais do que a escrita. Infinitas vezes confirmei a verdade disso que dizia – uma verdade que o desviou dias e noites do branco da página para o sujo dos problemas dos outros, das necessidades dos outros. Esse sujo foi levando o grão dos dias, a cor das vozes, para dentro dos seus livros – por isso é tão fácil respirar dentro deles. O António é o retrato lúcido da disponibilidade pura – com um faro canino para oportunistas e videirinhos. Pode até ter-se deixado utilizar, aqui e além, por causa desse fascínio de romancista diante da miséria humana; mas nunca se deixou enganar, precisamente porque conhece o fundo apavorado dos seres. O António ensinou-me que as pessoas se repartem em dois tipos essenciais: as que, em qualquer circunstância, escolhem a liberdade, e aquelas que privilegiam a segurança: «E são poucos, muito poucos, os que realmente têm coragem para pôr a liberdade acima de tudo, como há-de ter ocasião de verificar». Repetidas vezes me avisou, com um sorriso compassivo: «Pois é, minha querida, tenha cuidado com Fulano ou com Sicrana, não são de confiar. As pessoas são muito inseguras, e perdem-se... Eu não consigo deixar de gostar de certas pessoas nas quais encontro alguns defeitos muito graves, porque quase me comove a incapacidade delas para serem melhores... Mas sei exactamente o que cada uma delas vale, não tenho ilusões.»
As mais eficazes técnicas de detecção de arrogantes imprestáveis e malcriados incuráveis, aprendi-as consigo. O método telefónico de avaliação de supostos amigos pertencentes a uma qualquer classe dirigente é infalível: aos que fazem a ligação através de uma assistente e nos deixam a ouvir música de elevador, deve desligar-se-lhes definitivamente o telefone. A vida é demasiado curta para delapidar com quem não nos respeita o tempo nem a cumplicidade.
Querido António, quantas desilusões alheias curou, transformando rios de lágrimas em oceanos de alegria – sem que todavia a canção melancólica que os seus olhos cantam deixasse de soar. Essa é outra das coisas de que gosto em si: a sua capacidade de vibrar com canções, do mesmo modo que outros vibram com óperas ou sinfonias. Gosto da sua vontade de mudar a letra caduca do nosso Hino Nacional. Gosto do seu amor pelas coisas pequenas, que faz com que qualquer pessoa se sinta bem ao pé de si e queira contar-lhe alguma coisa.
Ninguém conta histórias como o António. Uma vez contou-me um episódio com o José Escada que guardei como epígrafe central da minha vida. Lembra-se? Certa vez o Escada esteve à beira da morte e, quando recuperou, pintou um conjunto de quadros muito diferente de tudo o que até então fizera: o seu cão, recantos da sua casa, coisas simples do seu quotidiano – telas inesperadamente intimistas e realistas, à revelia dos artifícios abstractos então em voga. Agradavelmente surpreendido, o António Alçada perguntou-lhe a causa de tão súbita e radical mudança. Resposta de José Escada: «É que eu vi a morte. Por isso agora já só pinto o que quero».
Querido António, já vai longa esta carta aberta e despenteada, que me saiu em lugar do texto que eu tinha pensado escrever sobre si. Todos os dias da minha vida converso consigo, por telepatia, cresci neste diálogo permanente entre nós dois, pelo que não sei monologar em seu redor. Não pretendo mais do que honrar as suas três grandes artes: a arte do romance, a arte da conversa e, acima de tudo, a arte de pensar livremente sobre todas as coisas, procurando iluminar as zonas obscuras e, se possível, acender mais uma ou duas estrelas na noite do mundo, ou nos olhos de alguém.
O beijo terno e grato, com a ternura de sempre da sua
Inês