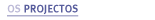Clara Pinto Correia
Absolutamente fabulosa, na convivência com o António Alçada, foi sempre a sua capacidade de nos contar histórias como parábolas risonhas para todas as pequenas minudências que viessem a debate, que suscitassem dúvidas, ou que, apenas, fossem apresentadas à colação de forma demasiado seca e árida para merecerem a memorização dos presentes. Ele ouvia-nos com o seu sorriso simultaneamente sábio e astuto. Divertia-se com as nossas ingenuidades e limitações, ele, o poço sem fundo da sabedoria sobre as coisas de nada o comportamento humano. Quem transporta a genialidade consigo, transpira-a tranquilamente, sem esforço, como quem sonha, de uma forma ou de outra. A forma do António Alçada sempre foi estar a falar dos Gnósticos e ouvir alguém ao lado debitar uma platitude que ele imediatamente agarrava, iluminava com uma das suas parábolas que mais ninguém conseguiria produzia, e fazia cintilar ali mesmo, num instante, num sopro, num passe de magia que nos deixava suspensos, com medo que acabasse e já à espera de mais. Na sua simplicidade transparente, as parábolas do António Alçada são a quintessência do discurso oral: fazem-se e desfazem-se num minuto, pertencem intrinsecamente ao fluxo da conversa, animam-na, elevam-na, puxam-lhe o lustro, depois reciclam-se na aleatoriedade das várias continuações possíveis e ficam a aquecer a nossa memória. Como enzimas perfeitos, catalisam as reacções mas nunca se dissolvem nelas. Ficam connosco, pérolas pequeninas distribuídas ao acaso pelos escaninhos do pensamento. A certeza de que há sempre uma história simples, uma daquelas boas histórias do António Alçada, que contém nela a semente da história infinita e imortal da comédia humana.
Um dia era o professor de liceu que pôs em quadras de pé quebrado toda a história de Portugal, e que começou a perder a imaginação à medida que se aproximou dos tempos modernos. Do que resultaram rimas de ir às lágrimas que o António debitava com um brilho doce nos olhos, como “E Mouzinho de Albuquerque/ Derrotou o Gungunhana/ Avançando pela selva/ Rataplana, rataplana”.
Outra vez era o casalinho que assaltava o banco. Chegava a autoridade que prendia os malfeitores. Ia toda a gente ver. Quando o António conseguia dar uma espreitadela, estava um dos polícias a dizer para a rapariga: “Oh, Belinha! Então tu, agora, metida nestas vidas!”
Outra vez era durante o PREC, e as tias eram todas do PS porque era o mais à direita que se podia ser nessa altura. Houve uma manifestação do PS contra a homogeneidade da Intersindical, e gritava-se a palavra de ordem “A Intersindical não serve Portugal”. As tias, na comitiva, comentavam: “Ai, de todo, de todo!”
E depois houve aquela vez em que ele contou a parábola simplicíssima que eu agarrei no ar e guardei bem fechada na palma da mão para depois escrever um conto. Para mim, era boa demais para não viajar comigo para o domínio mais férreo da palavra escrita.
Estávamos a jantar em minha casa, o António, eu, e a minha prima, também ela uma grande amiga dele. A certa altura, falei de um namorado longínquo e da saída alarve dele que logo ali, ainda no início do romance, me tinha prenunciado a contragosto que aquela história não poderia de forma nenhuma acabar bem. A minha prima ficou chocadíssima. Como é que era possível que um homem dissesse uma coisa daquelas. Como é que uma mulher há-de sentir-se ao ouvir um homem a dizer uma coisa daquelas. Como é que ainda se dizem coisas daquelas nos nossos dias. E por aí fora. O António estava a ouvi-la com aquele seu sorriso deleitado, e o sorriso fazia-se cada vez mais rasgado à medida que a indignação da minha prima crescia. Finalmente, agarrou-lhe na mão com muita ternura, com a ternura que só ele sabe ter, e disse-lhe com todo o carinho:
“Oh meu amor. A menina não se esqueça de que os homens são muito básicos. São básicos, mesmo. Por isso é que eu gosto tanto de ser lésbico. Olhe, por exemplo, aqui há tempos uma amiga minha teve um romance com um homem que eu também conheço...”
E foi assim que eu ouvi a parábola que depois se transformou no meu conto.
*
HISTÓRIA DE UM GRANDE AMOR
Para o António Alçada Baptista, legítimo proprietário.
Era uma mulher que se chamava Ana Rita e que estava quase a completar sessenta anos. Tinha uma licenciatura em Filosofia, mas só muito recentemente começara a traduzir e anotar artigos sobre assuntos que a maioria das pessoas desconhecia, para uma revista de que também quase ninguém ouvira falar. Durante toda a sua vida adulta, Ana Rita exercera sobretudo as funções de namorada do Miguel Maria, e depois de noiva do Miguel Maria, e depois de mulher do Miguel Maria, e depois de mãe dos três filhos do Miguel Maria e de anfitriã dos jantares do Miguel Maria. Há uns tempos atrás, já nem se lembrava bem quando porque todos os tempos lhe pareciam iguais, estreara-se também na actividade de avó dos netos do Miguel Maria. Nunca tivera grande coisa que fosse mesmo sua, e o que fôra do Miguel Maria nunca fôra assim especialmente bom, embora não pudesse de forma nenhuma considerar-se particularmente mau. Era só inglório e indiferente, como desde sempre se esperara que fosse o destino das mulheres da sua geração e da sua classe social: um somatório de etapas previsíveis acumuladas sem surpresas nem emoções, e sobretudo sem recompensas. Ana Rita aprendera muito bem em pequenina qual era o papel que devia representar, e representara-o do princípio ao fim sem uma única falha de registo.
Mas, quando ninguém estava a ver, sempre que ninguém podia ouvir, Ana Rita tinha sonhos.
Ana Rita tinha aqueles sonhos teimosos que provavelmente também eram comuns ao destino das mulheres da sua geração e da sua classe social, só que elas não sabiam porque não parecia que pudessem contá-los umas às outras. Nesses sonhos, sonhados num segredo tão bem guardado que ela própria já quase se esquecera do esconderijo onde ficava a chave, Ana Rita era o centro do mundo.
Havia um homem maravilhoso que estava apaixonado por ela. Não era nenhum marido, nenhum pai, nenhum filho, nenhum neto, nenhuma dessas entidades que tinham presidido ao desenho do seu destino. Era um homem, um homem verdadeiro., um homem com corpo de homem, e olhos de homem, e voz de homem e cheiro de homem. Um amante que a apertava contra si e tremia de paixão. O sonho era só assim, sem mais partes. O homem não era mais que uma visão muito breve. Não tinha importância. Não fazia parte da vida real. Pertencia à galáxia daquelas imagens fugazes que passam por nós antes de adormecermos.
E então, quando Ana Rita estava quase a completar sessenta anos, houve um fim de tarde de Outono em que Luís Filipe entrou por fim na sua vida como um homem, depois de imensas indecisões, aproximações, anticipações e sublimações. Quase não houve aviso, e logo a seguir também não houve quase nada. Foi só aquele olhar do amante que já não pode mais, que a atravessou como uma dessas rajadas de vento quente que ateiam os incêndios às florestas. Foi só um beijo rápido, leve, arrancado ao susto, no canto dos lábios, enquanto ela sentia a mão dele descer-lhe pelo lóbulo da orelha. Foi só uma fracção de segundo. Podia entrar alguém na sala. Não era seguro. Ana Rita soube imediatamente que aquele era o primeiro sinal da entrada em cena de um grande amor.
Um grande amor que agora ia certamente ser trágico, porque era obviamente proibido.
Luís Filipe também colaborava na tal revista de que quase ninguém ouvira falar, também era casado, também tinha filhos, também tinha netos. E, sobretudo, tinha a marca do mesmo destino que marcara Ana Rita, o destino daquela geração, daquela classe social, em que os matrimónios não se destinavam a ser pactos de afectos e em que os papeis a desempenhar na vida adulta se aprendiam na infância e não se questionavam. Luís Filipe também nunca se sentira particularmente feliz, embora nunca tivesse sido especialmente infeliz. E também ele guardara para si os sonhos que as pessoas não contam umas às outras, as visões fugidias que o embalavam antes de adormecer, os enredos em que uma mulher maravilhosa, perdidamente apaixonada por ele, o fazia sentir-se o centro do mundo.
Ana Rita e Luís Filipe tinham tanto em comum que poderiam falar disso um ao outro sem nunca se cansarem durante horas a fio, durante dias perdidos, durante anos e anos até ao fim dos tempos.
Talvez por se entenderem cada vez melhor, falavam cada vez menos quando conseguiam estar juntos e sozinhos.
Quando conseguiam estar juntos e sozinhos, faziam amor de mil maneiras que nem em sonhos tinham alguma vez julgado possíveis.
Ana Rita vivia este seu amor trágico e proibido com o coração entontecido de emoções mas cada vez mais oprimido de recriminações. Nunca antes experimentara deixar que os seus sonhos sem rosto lhe invadissem a vida real. Nunca se preparara em pequenina para representar aquele papel. Nos primeiros dias sentira-se uma heroína, porque tinha a certeza de que em breve se abateriam sobre ela a tragédia e o castigo destinados aos que violam os ensinamentos da infância. Mas depois os dias continuaram a passar, e nunca houve tragédia, nunca houve castigo, os encontros clandestinos na casinha ao pé de Azeitão deixaram de ser um tumulto apressado para se converterem num hábito tranquilo, não perpassou o mínimo anseio pelos olhos do Miguel Maria, nem dos filhos do Miguel Maria, nem dos netos do Miguel Maria. Claro que tudo aquilo era um segredo. Mas era um segredo vivido numa paz tão grande, e por fim mesmo numa rotina tão plácida, que até parecia que o mundo inteiro estava a ver e achava bem. Uma rotina plácida não é propriamente o que uma mulher à beira de fazer sessenta anos espera encontrar quando se entrega de corpo e alma ao primeiro e único grande amor trágico e proibido da sua vida.
Ao fim de dois meses, Ana Rita esbarrou no Museu do Chiado com João Gonçalo, que, por uma série de ligações cruzadas que agora demorariam muito tempo a explicar, era amigo lá de casa deles todos.
João Gonçalo já tivera fama de playboy e de bon vivant, mas agora tinha sobretudo fama de ser um homem calmo e generoso, que nunca fazia juízos de valor e estava sempre disponível para escutar os desasossegos dos outros.
Talvez fosse nisto que Ana Rita estava a pensar quando violou de vez, e pela primeira vez, as suas regras ancestrais de silêncio e compostura. Arrastou João Gonçalo para a Bénar e abriu-lhe por completo o coração pelo meio de um pranto avassalador. Ou talvez não fosse assim tão simples. Talvez, mesmo que sem dar por isso, Ana Rita tivesse vindo a pensar que o seu grande amor precisava de ser de alguma forma revelado ao mundo para ela pudesse por fim senti-lo mesmo enquanto tal. Ou até talvez fosse mais do que isso. Talvez houvesse na confissão desesperada de Ana Rita a esperança confusa de que, dos ouvidos protectores de João Gonçalo, a sua história clandestina passasse para outros ouvidos menos coniventes, circulasse por Lisboa, ganhasse adornos e pormenores que lhe dariam uma realidade que ela ainda não tinha, e talvez, talvez, talvez – sim, talvez de alguma forma assim o seu grande amor viesse a explodir dentro da indiferença da família do Miguel Maria. E então a tragédia rebentaria em todo o seu esplendor à superfície, com a raiva desvastadora do terramoto de 1755. E nada poderia ficar como dantes. Talvez. Talvez. No fundo, lá muito no fundo – talvez do outro lado da tormenta estivesse por fim um divórcio que Ana Rita nem conseguia começar a imaginar como seria. E, contornado esse cabo impossível, estender-se-ia à sua frente, cintilante, aventurosa, uma vida feliz e gratificante nos braços de Luís Filipe. No verdadeiro centro do mundo.
Nunca saberemos o que move ao certo as nossas confissões, e por isso nunca saberemos o que moveu esta confissão de Ana Rita.
O que é verdade é que, entre assomos de lágrimas e repentes de soluços, Ana Rita falou longamente a João Gonçalo do seu grande amor trágico e proibido.
João Gonçalo gostava muito dos segredos aflitos das pessoas, e por isso ficou imensamente comovido.
Como esta história se passa em Lisboa, cinco dias mais tarde João Gonçalo esbarrou com Luís Filipe na Brazileira, embora nos últimos sete meses nunca lhe tivesse posto a vista em cima.
Luís Filipe parecia subitamente mais novo, mais magro, com as costas mais direitas e os olhos mais brilhantes. Parecia animado de uma energia que antes parecera tê-lo abandonado há muito. João Gonçalo sabia de onde vinha esta aura subtil, e ainda ficou mais comovido. São tão bonitas, as paixões impossíveis. Ficam tão bonitos, os amantes temerários.
João Gonçalo!, disse Luís Filipe, já apuxar o amigo para mais perto de si. Eh pá, João Gonçalo, que bom ver-te. Tu sabes lá, pá. Tu sabes lá.
João Gonçalo sorriu discretamente num aceno de ternura, baixou um bocadinho a cabeça, e preparou-se para ouvir Luís Filipe falar-lhe do seu amor trágico e impossível por Ana Rita numa torrente apaixonada de sentimentos sem rédeas.
Eh pá, João Gonçalo, sussurrou Luís Filipe. Imagina que eu…
Luís Filipe fez uma pausa para encher o peito de ar. E, a seguir, muito de homem para homem, revelou a João Gonçalo:
Eu ando aí a comer uma gaja…