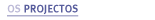António Mega Ferreira
Um dia, no meio de uma daquelas conversas longas, pausadas, enleantes, de que é mestre indiscutível, António Alçada Baptista, um promeneur das palavras, pôs-me a mão no ombro e disse-me: “Sabes, António, o mundo divide-se em duas categorias de pessoas: as que gostam de viver e as que não gostam de viver”. A definição, de luminosa, tornava-se-me óbvia: por que razão nunca pensara no mundo assim? Estava habituado, por formação académica e inclinação social, a saber que havia no mundo progressistas e conservadores, iluministas e obscurantistas, ricos e pobres, racionalistas e idealistas, católicos e não católicos. A verdade é que nenhuma dessas dicotomias esgotava a minha vontade de catalogar as pessoas, que, nesse tempo (tinha eu vinte e tal anos), era quase uma obsessão geracional.
A classificação de António Alçada introduzia no meu horizonte de referências uma alternativa que convinha melhor ao meu indisfarçável hedonismo e à quase bulímica curiosidade intelectual que me consumia: reconhecer nos outros o lampejo de paixão que identifica o que gosta da vida acima de todas as coisas passou a ser um dos meus mais constantes exercícios de observação, capaz de me evitar o dissabor de querer arrancar, a quem não quer da vida mais do que a sobrevivência, expansões e manifestos que a sua índole não permite. A mim, a sistemática aplicação do preceito alçadiano poupou-me o amargo custo de muitas desilusões; aos outros, o incómodo das expectativas frustradas. Houve proto-relações que ficaram pelas primeiras hostilidades, exactamente porque eu não descortinava na contraparte a chispa que identifica o amante da vida. E um reparo deslocado, um franzir indiferente de lábios, uma mão que se esquece do outro passaram a ser sinais de alerta: eu sou dos que gostam de viver e, por isso, tudo aconselha a que procure ou frequente os que têm comigo essa afinidade fundamental. A lição de António Alçada constitui uma das normas mais frutuosas que alguém me transmitiu na vida.
Conheci-o já depois de 1974, creio que por mediação de Helena Vaz da Silva, com quem, nesses anos de rescaldo dos calores revolucionários, andávamos a ensaiar outros horizontes, talvez os de uma utopia que nos redimisse da estreiteza dos radicalismos que a Revolução pusera a nu. E tinha, há que dizê-lo, um preconceito de princípio, que me punha de pé atrás diante de António Alçada: nos anos do marcelismo, ele embrenhara-se em conversas a meu ver pouco recomendáveis com Marcello Caetano, e, nessa medida e à distância dos meus anos de militância universitária, desiludira os que tinham começado a ouvir falar dele como o mentor da “revolução cultural” que foi, na década de 60, a aventura da Moraes, o seu catálogo rico e insólito, e, por extensão, O Tempo e o Modo, cujo alcance e impacte só podem ser devidamente apreciados por quem tenha vivido esses anos sombrios e desassossegados.
E, no entanto, essa renitência apriorística rapidamente cedeu a um encantamento que tinha tanto que ver com o que Alçada dizia, como com a forma como o dizia. Para começar, António Alçada tem, da arte da conversação, uma altíssima prática e (como se confirmaria mais tarde, no seu romance Os Nós e os Laços) nela faz assentar toda uma filosofia de vida. Como é de seu natural gentil, nele a conversa nunca é um discurso argumentativo, mas uma espécie de exercício narrativo, onde tudo, memórias, reflexões, pequenos episódios e anedotas literárias, se vaza num continuum que é a sua forma de estar com os outros – e de interagir com eles. Como contador de histórias, António Alçada dispõe daquele mesmo talento que distingue os grandes conversadores: encanta como um mago e seduz como um profeta. Não é uma coisa nem outra, e se há virtude maior que se deva exaltar no percurso intelectual e cívico deste homem singular, é precisamente o nunca ter querido ser nem mágico nem visionário, nem manipulador de consciências nem vendedor de ilusões. Numa época em que todos julgavam deter mais do que a sua pequena parte de verdade, não é coisa pouca.
E depois, devo a António Alçada ter-me falado de José Bergamín e de Mounier, e de me ter aberto os olhos para esse enorme prosador que é Rubem Fonseca. A certa altura, não sei como, devemos ter descoberto um no outro a mesma secreta paixão (eram então poucos os iniciados) pela obra de Jorge Luís Borges. Na sua imensa generosidade, foi ele, um dos primeiros tradutores de Borges em Portugal, que sugeriu o jantar do qual resultaria uma longa entrevista que fiz com o escritor argentino no Estoril, em 1980. Foi anjo tutelar dessa “noite triunfal” da minha vida, e, como se isso não bastasse, foi ele que ma devolveu, em fotocópia de formato reduzido, vinte anos depois, quando eu julgava ter perdido para sempre o exemplar do suplemento do Expresso em que viera publicada, e que já nem nos arquivos do jornal era possível encontrar.
Quando o conheci, já António Alçada tinha vivido muito, e muito mais do que eu seria capaz de imaginar, com a idade que tinha. Ganhara uma sabedoria de vida que se derramava nas suas pacientes observações desdramatizantes da raiva que uma certa maneira de estar portuguesa nos inspirava. Às vezes, o seu magistério feria a nossa impaciência: era ouvi-lo louvar as virtudes portuguesas, por contraposição ao árduo requisitório com que arrasávamos o tradicional ronceirismo nacional. E, nele, aquela caturrice de nunca ter ido ao Algarve, a promessa veemente de que nunca lá iria, era uma forma de contrariar o óbvio, de se colocar de fora, ou ao lado, do que eram os lugares-comuns da nossa existência lisboeta nos inícios da miragem europeia.
Volto ao princípio, àquele dia em que ele me pôs a mão no ombro e debitou essa verdade que eu havia de fazer minha (já a repeti tantas vezes, e a tanta gente, que não sei a quem pertence, se a ele, se a mim). Disse-mo sem sobressalto, sem alterar sequer o tom, com aquela sóbria emissão de voz que às almas distraídas pode parecer sinal de tédio ou de um profundo, irredimível cansaço. Pura ilusão: se nos aproximámos há trinta anos, se tanto nos frequentámos durante uma década, e se ainda hoje, mesmo que à distância, tanto nos estimamos, é porque naquela verdade fundamental se continha o sinal de uma revelação – a de que ambos pertencíamos, e para sempre, à metade do mundo que gosta irremediavelmente de viver.
António Mega Ferreira
1 de Outubro de 2006