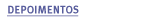Isabel Tamen

A experiência da Moraes, e de todas as iniciativas que dela resultaram – O Tempo e o Modo, Concilium, Association pour la Liberté de la Culture –, poderá ser mais bem compreendida se considerarmos a situação psicológica e moral de uma certa área da sociedade portuguesa – a dos filhos da burguesia católica tradicional – perante o regime e as estruturas da Igreja naquela época.
É preciso ter presente que, nesse tempo, a Igreja, o Exército, o funcionalismo público e a burguesia da província (estruturalmente ligada à Igreja) constituíam as forças sociais de apoio da situação saída da Revolução de 28 Maio de 1926. Era a poderosa força da inércia perante a frágil força da mudança, ademais perturbada pela simbiose dificilmente separável da agitação e da demagogia que caracterizou uma boa parte da expressão política da Primeira República.
Ainda sobre a burguesia da província, é preciso lembrar que, até à década de 60, Portugal era uma sociedade rural e que o êxito político de Salazar foi o de ter sabido aproveitar os choques provocados pela Primeira República sobre a província e a religião – a ordem, a estabilidade, o imobilismo – para recuperar essa força poderosa mas incapaz de segregar os seus próprios dirigentes e de organizar a expressão do seu poder.
Na minha visão da infância e da adolescência, Salazar era o procurador, em Lisboa, dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios e dos padres: do que julgavam ser os seus direitos e das suas curtas aspirações. As interpretações materialistas dialécticas que se fizeram sobre este período da nossa história são, no meu entender, construções abstractas inteiramente desligadas da realidade que conheci.
Por isso, na fundação da Moraes, a reacção destes “filhos da burguesia” teve muito mais que ver com uma postura ética que se exprimia publicamente do que uma acção deliberadamente política. Tanto assim que os elementos do seu núcleo fundador - João Bénard da Costa, Pedro Tamen, Alberto Vaz da Silva e eu próprio – após a queda do regime, mantiveram-se à margem dos partidos políticos, sem compromissos de chefia ou mesmo de simples militância.
Como grande parte de toda esta acção da Moraes esteve ligada à minha própria iniciativa e actividades, sou obrigado a referir alguns aspectos que, de algum modo, se podem considerar autobiográficos.
Como já tenho dito, fui educado numa família católica tradicional, onde o texto cristão era vivido com algum empenhamento e rigor, não obstante ficar limitado a uma interpretação simplista e redutora da vida e da mensagem cristã. Era uma identificada burguesia católica da província, um típico fenómeno da ruralidade, cuja subsistência não provinha do trabalho, do comércio, da indústria ou do funcionalismo, mas da propriedade rural. Isso tornava possível uma vida que não estava imediatamente referida à pressão das necessidades, dado que o recebimento das rendas pelo S. Miguel era uma rotina de tal modo aceite pelos “parceiros” sociais que nela intervinham, que permitia que se passasse ao lado da chamada «luta pela vida». Mesmo no meu caso, que dentro dessa burguesia pertencia a um ramo “letrado” – bisavô e avô advogados e pai médico -, o curso e a actividade profissional eram mais uma posição na hierarquia profissional do que um meio de subsistência. Pessoalmente não me lembro de que meu pai cobrasse honorários pelo exercício da medicina.
Esta educação ministrada para uma visão estática do mundo e da vida e uma existência que, pela parte dos filhos, era vivida sem preocupação quotidiana de «angariar» os meios para o “sustento”, dava-nos uma certa disponibilidade para a recepção e o cumprimento das “doutrinas”, sem que elas fossem inquinadas pelas situações de subsistência. Poderia dizer-se que, da própria natureza da inserção social e dos erros que ela continha, decorria uma relativa independência nos projectos de vida e, consequentemente, a possibilidade de assumir uma atitude cristã cujas consequências não se reflectiam imediatamente na situação material que se estava a viver.
Assim se colhiam da infância os ensinamentos de um catolicismo bondoso, com exemplos de vidas santificadas pela dedicação e serviço dos outros, ensinamentos piedosos que nos eram ministrados pelas santas mulheres,que encontravam na religião e nos pobrezinhos a realização dos ditames de uma consciência moral e religiosa que assim interpretava os “deveres para com Deus e para com o próximo”.
Esta burguesia encontrava nos pobrezinhos “dóceis” e nos padres os seus únicos cúmplices e tudo o mais eram inimigos: os operários (os pobres “revoltados”), os escritores, os liberais, os filósofos das “luzes”, os republicanos e até o Estado representado pelo “fisco”.
Diria ainda que esta especial inserção na estrutura social, ajudada pela própria pedagogia religiosa, era, por sua naturreza, uma situação geradora de culpa e de medo, com que ficou inquinada toda essa geração.
O Colégio dos Jesuitas, em Santo Tirso, onde fiz a quarta classe e o Liceu, nomeadamente através da influência do Pe. António de Magalhães, formou-me na convicção de que “um católico tinha uma função específica contra as “forças do mal” que se tinham apoderado do mundo”. Os republicanos e a maçonaria eram os representantes dessas forças: estava-se então no rescaldo das perseguições religiosas da Primeira República e ouviam-se ainda, acesos e vibrantes, os ecos da revolução “redentora” do 28 de Maio. Não nos ensinaram a “tratar da nossa vida”, pois um católico tinha uma missão a desempenhar no mundo ao serviço da verdade e da justiça que emanava da mensagem de Cristo.
Foi com essa disposição interior que vim para a Faculdade de Direito de Lisboa e, durante os primeiros anos, sofri o embate das estruturas reais da Igreja e do Estado no seu afrontamento com a doutrina cristã, cuja contradição me começou a parecer evidente.
Uma consequência daquela culpabilidade cristã manifestou-se na atracção pelo comunismo. A verdade é que, com a mesma dispensa da interrogação e da dúvida, no mesmo quadro “eclesial”, com a sua disciplina, a sua inabilidade, os seus directores de consciência, o seu clero, o seu catecismo, a sua liturgia, as suas cantigas paroquiais, era fácil a tentação de aderir àquela ideologia redentora, esmagados pelo peso de tantos privilégios perante tanta injustiça no mundo.
Neste período, que pessoalmente me foi muito difícil, tive algum apoio de certos católicos, olhados com muita desconfiança pelos aparelhos da Igreja e do Estado. Entre esses estava o José Sebastião da Silva Dias – ao tempo inspector da Polícia Judiciária – que me aconselhou a assinatura da revista Esprit.
Foi assim que tomei contacto com o pensamento de Emmanuel Mounier. Com ele acreditei na possibilidade de uma presença intelectual e cívica a partir de um catolicismo aberto e interventor que, de certo modo, se reclamava da experiência daquela revista e de toda a actividade que se desenvolvia à sua volta. Essa minha experiência foi vivida nos meus primeiros anos de advogado. A visão de Mounier, num mundo intelectual inteiramente contaminado por uma visão materialista dialéctica do homem, da sociedade e da história salvaguardava-me a possibilidade de manter o quadro da minha educação tradicional, que não queria largar, e ao mesmo tempo permitia-me a rotura com a prática do regime e da Igreja.
Eu não tinha ainda trinta anos, exercia advocacia em Lisboa com algum êxito profissional, mas como não fora educado a “tratar da minha vida”, a profissão de advogado dava-me uma certa incomodidade de viver.
Coincidente com essa minha fase de desajustamento interior, estava à venda uma livraria–editora, a Livraria Moraes. Editar e vender livros tinha mais que ver com a minha relação com o mundo e, juntamente com um livreiro amigo e dois amigos meus, resolvemos comprá-la. Só um de nós tinha algum dinheiro e a sociedade foi comprada com grandes facilidades. A experiência não foi muito boa e os outros sócios venderam as suas quotas.
Entretanto, tinha tomado contacto com uma nova geração de católicos com preocupações idênticas às minhas. Todos recém-formados, tinham-se ligado através do Jornal Encontro e do Cine-Clube-Católico. Eram o Pedro Tamen, o João Bénard da Costa, o Nuno de Bragança, o Alberto Vaz da Silva, o José Domingos de Morais, entre outros. A saída dos primeiros sócios coincidiu com o nosso conhecimento e então, com os mesmos “ideais” e um grande empenhamento, resolvemos fazer da editora o instrumento de actuação e realização de algumas das nossas preocupações.
De todo o grupo, só o Pedro Tamen ficou formalmente ligado à sociedade,mas era, de certo modo, o representante de todos os outros. Juntávamo-nos com frequência para planificar a acção da editora, numa perspectiva do que então se chamava “apostolado”.
Um fenómeno de que imediatamente tomei consciência foi o de que pouca gente compreendeu a minha resolução de deixar a advocacia, de certo modo prometedora, para me fazer editor. Não digo já a reacção das pessoas metidas no sistema ou a dos homens da minha família que estavam orgulhosos e tranquilos por me verem singrar na vida, mas muitos padres e católicos que, ao nível da linguagem me falavam em atitudes de “serviço” e “apostolado”, perante aquela minha acção concreta , diziam-me que eu tinha feito uma grande asneira em trocar um escritório com uma actividade já razoável por uma editora, até porque “isso dos livros nunca deu nada” (como era surpreendente a atitude de muitas famílias “cristãs” perante a vocação sacerdotal dos filhos, como se essas opções devessem ser tomadas pelos “outros”, sendo a obrigação dos “nossos” a de se integrarem na “normalidade”).
Com a vinda daquele grupo, a Livraria Moraes começou a viver a sua epopeia. Esta atitude épica e apostólica iria determinar em grande parte o fracasso da empresa. A verdade é que nunca me passou pela cabeça que tínhamos nas mãos uma empresa comercial sujeita a critérios de rentabilidade e julgava que, como nós, alguns milhares de portugueses estavam ansiosos por livros que iam ao encontro de preocupações comuns, quer no que dizia respeito à liberdade da Igreja, quer à liberdade do cidadão. Todos esses, sedentos de novas ideias, iriam acorrer aos livros que publicávamos e a editora encontraria na sua justificação a sua viabilidade. Naquela época as edições eram, normalmente, de três mil exemplares e achava que havia, pelo menos, três mil pessoas em Portugal com as mesmas ansiedades que nós e que, por isso, depressa iriam esgotar as edições.
Foi um cálculo errado A primeira colecção lançada foi o “Círculo do Humanismo Cristão”. O humanismo era então uma das muitas palavras-mito que implicava uma outra visão da vida: uma forma de compromisso e solidariedade com vista à alteração das estruturas de uma Igreja, que considerávamos hipócrita e tíbia, e de uma sociedade que tínhamos como injusta.
Para facilitar a compra desta colecção, ela poderia ser feita mediante uma quota mensal de 25 escudos ,que daria direito a um livro de dois em dois meses, independentemente do preço de venda ao público que era sempre mais elevado.
Na prática, as assinaturas nunca foram além das quatrocentas e os livros que publicávamos, dos grandes autores “progressistas” e “libertadores” desse tempo, iam-se acumulando no armazém. No entanto, o meu entusiasmo era tal que isso não era uma questão a considerar : em bola de neve, cada vez íamos editando mais livros perante a indiferença da sociedade portuguesa, que tinha um vago conhecimento, sobretudo através dos jornais afectos ao regime, de um grupo de rapazes católicos “progressistas” (os tais peixinhos vermelhos numa pia de água benta) que, através da Livraria Moraes faziam a sua acção “subversiva”.
É neste quadro de iniciativas que nasce O Tempo e o Modo. Parecia-nos imprescindível uma revista para a acção que estávamos a realizar. Demos à revista o nome, escolhido por Pedro Tamen, para uma colecção que já existia na Moraes.
Embora nem todos concordassem com uma acção política “católica” e entendêssemos que os católicos deviam integrar-se nos vários partidos com os quais sentissem afinidades, era muito importante, por razões tácticas internas e pela necessidade de contactos com os partidos democratas-cristãos doutros países, que alguns católicos se reclamassem de uma intervenção política. Aliás, as razões por que esses partidos se formaram lá fora foram essencialmente tácticas. A Alemanha e a Itália, depois do nazismo e do fascismo, ficaram com as instituições políticas destroçadas e era necessária uma organização de base já existente, o que só havia na Igreja, com um pároco em cada paróquia. Na França, igualmente, após a ocupação e a Resistência, a mesma necessidade se impunha. Daí a artificialidade que estes partidos sempre tiveram..
Assim, em todas estas situações surge a tentação do Partido Democrata-Cristão. Após a guerra, em 1946 ou 1947, como a situação política não era estável, contou-me o padre Abel Varzim que o Cardeal Cerejeira lhe pediu para ele fazer alguns contactos entre a classe política no sentido de saber se, de um momento para o outro, as condições da vida política se modificassem, eles estariam dispostos a alinhar num partido democrata-cristão. Mas avisou-o: “Olha que isto é uma iniciativa tua e eu não tenho nada com isso. Se me perguntarem, digo que não”. O padre Abel Varzim fez uma ronda, inclusive entre ministros, e todos lhe asseguraram a sua colaboração. Infelizmente, um deles,de que eu não digo o nome porque era pai de um grande amigo meu e porque eu sempre o tive por pessoa muito séria, acho que por dever de consciência foi dizer ao Ministro do Interior, que era então o Dr. Trigo de Negreiros, e a coisa ficou por ali sem outras consequências. Com vêem, a democracia cristã era um recurso de crise e era assim que eu a interpretava.
Em Portugal, naqueles fins dos anos 60, essa iniciativa tinha uma grande utilidade para a Igreja, era, indiscutivelmente, um dos apoios do regime e havia todo o interesse em quebrar aquele bloco. Por outro lado, para o regime tornava-se mais difícil dizer que éramos comunistas.
Esta posição não era fácil de defender porque as pessoas, nomeadamente a juventude, não tinham muito sentido prático e os acontecimentos de Maio de 68 tinham criado grandes alterações sem relação aos ideais e aspirações da política.
Em relação à colaboração com os partidos demo-cristãos no estrangeiro, devo dizer que o único e franco acolhimento que encontrei foi a Democracia Cristã italiana, com quem mantive contactos, que, após o 25 de Abril, passei ao Adelino Amaro da Costa. Estava-se em plena guerra fria e, tanto a Democracia Cristã francesa como a alemã, consideravam o regime de Salazar e o dos ditadores latino-americanos aliados seguros contra o comunismo e recusaram qualquer contacto.
Além da Democracia Cristã italiana, só tivemos apoio de intelectuais, entre os quais é justo salientar a colaboração e a disponibilidade de Jean-Marie Domenach, ao tempo director da Esprit, que inclusive foi impedido de entrar em Portugal quando, a nosso convite, vinha fazer uma conferência, e sobretudo Pierre Emmanuel, então presidente da “Association Internationale pour la Liberté de la Culture”, que nos deu um apoio sistemático e regular.
Toda a acção que estávamos a desenvolver impunha a necessidade de manter contactos com a oposição tradicional. É preciso lembrar que, entre os católicos e os democratas,havia o imenso fosso de que já falei. A democracia não tinha entre os católicos portugueses, qualquer tradição. Houve exemplos isolados dos padres Alves Correia, dois irmãos que manifestavam publicamente as suas ideias democráticas e um dos quais morreu no exílio. Em 1945, nas primeiras eleições feitas com abrandamento de censura, que me lembre, só o Dr. Vieira da Luz tomou, como católico, uma posição pública contra o regime. Quando o Bispo do Porto foi exilado, a Igreja portuguesa não lhe deu o mínimo apoio e poucas foram as vozes que com ele se solidarizaram.
Nas eleições de 1961, alguns católicos apoiaram a oposição: o Francisco Sousa Tavares e o Francisco Lino Neto são os que recordo e, ao candidatar-me nesse ano pela oposição no distrito de Castelo Branco, julgo que eu e o Lino Neto fomos os primeiros católicos a candidatar-nos contra o regime.
Tive algumas reacções do meio em que vivia, surpreendido com a minha atitude, pois julgavam que o meu oposicionismo se ficava pelas conversas de café. Quando o meu nome apareceu entre os do que chamavam “o reviralho”, creio que tomaram consciência de que a minha atitude ia para além das palavras.
Para a geração mais nova do que eu, tenho que reconhecer que essa decisão teve alguma importância ,embora julgue que as reacções possam ter diversas interpretações. No entanto, acho que aquela candidatura foi para os católicos de então uma referência política a considerar.
Nas eleições de 1965, não conseguimos arranjar quatro candidatos em Castelo Branco para concorrer ao acto eleitoral. Fizemos então uma declaração muito solene a dizer que, dadas as condições impostas pelo regime, não nos era possível ir às eleições. De 1968 em diante a situação modificou-se: o desgaste do regime era evidente, a guerra colonial tinha alterado de alguma maneira a consciência da sociedade portuguesa e, quando concorri em 1969, ser da oposição era quase uma promoção.
O Tempo e Modo publicou o seu primeiro número em Janeiro de 1963. Foi resultado da necessidade que nos pareceu evidente de ter um órgão de intervenção que mostrasse o nosso empenhamento em manter diálogo e alianças com a oposição tradicional. A minha amizade com o Mário Soares e o Francisco Salgado Zenha facilitou muito esse entendimento. O Partido Comunista não gostava que o regime confundisse deliberadamente a oposição com o comunismo porque isso lhe permitia manter uma certa tutela sobre o movimento oposicionista, mas Soares e Zenha pelo contrário tiveram consciência da importância do diálogo com os católicos pela abertura da frente contra a situação e porque isso iria tirar argumentos à sua propaganda.
Os dois ficaram como membros do Conselho Consultivo da revista e tínhamos reuniões regulares para a sua preparação. A revista tinha como subtítulo Revista de Pensamento e Acção e, à sua volta, procurámos desenvolver algumas iniciativas. Por isso ela passou a ser também uma referência política na sociedade portuguesa.
O primeiro número tinha artigos do Mário Soares, do Jorge Sampaio e meus. A sua leitura deve ser feita hoje tendo presente tudo o que lhe estava subjacente porque era grande o peso da censura. Mário Soares escreveu sobre Oliveira Martins e, no meu artigo, quando queria dizer “instituições democráticas”, tinha que escrever “instituições que pressupõem uma certa dialéctica”. No entanto, as pessoas entendiam-se por estas cifras e através delas se passava a palavra.
As nossas relações com certas áreas da oposição nem sempre foram fáceis. Lembro-me que, mesmo entre os colaboradores, tive grandes reacções por ter escrito uma vez “ao arbítrio de Bautista, sucede, em Cuba, o extremismo de Fidel”. A Seara Nova fazia-nos, de vez em quando, os seus ataques e insinuações, com gáudio da imprensa de direita.
Apesar de tudo isso, O Tempo e o Modo reuniu colaboração de pessoas de várias tendências. Entre as que lembro, posso citar, além de Mário Soares, Francisco Salgado Zenha e Jorge Sampaio, os nomes do padre Abel Varzim, Jaime Gama, José Luís Nunes, Francisco Balsemão, Mário Brochado Coelho, Júlio Castro Caldas, Alfredo Barroso, Manuel de Lucena, Miller Guerra, Vasco Vieira de Almeida, Eduardo Lourenço, Mário Murteira, Raul Rego, Luís Salgado de Matos, Eduardo Prado Coelho, José Pedro Pinto Leite, Francisco Saarsfield Cabral, Vitorino Magalhães Godinho. O João Bénard da Costa e o Vasco Pulido Valente, praticamente faziam e coordenavam a revista.
Também me parece que O Tempo e o Modo teve uma especial importância na área das artes e das letras. É possível dizer-se que estávamos perante uma ditadura política de direita e uma ditadura cultural de esquerda e que certos nomes como os de Jorge de Sena, Vergílio Ferreira, Agustina Bessa Luís, António Ramos Rosa, Sophia de Mello Breyner, Ruy Belo, não estavam valorizados de acordo com o seu talento. A Revista, além de acolher a sua colaboração, soube dar-lhes o relevo que mereciam e criou um espaço cultural onde, na literatura e nas artes, se exprimiam outras tendências e outros modos de pensar.
Entretanto, em 1968, Marcello Caetano assumia o poder. Como eu não acreditava em golpes militares, e achava que a oposição era um importante núcleo de testemunho mas com uma relativa indiferença na sociedade portuguesa , pareceu-me que a liberalização progressiva do regime seria a única via para a instauração da democracia. Dois grandes amigos meus, o José Guilherme de Melo e Castro na Acção Nacional Popular, e o José Pedro Pinto Leite, que entrava na Assembleia com a Ala Liberal, davam-me algumas garantias dessa possibilidade. Mas a verdade é que a guerra colonial radicalizara os conflitos na sociedade portuguesa e as gerações mais novas, que sofriam com maior agudeza o desastre da guerra, muito compreensivelmente não estavam dispostas a contemporizar com soluções reformistas.
Foi nessa altura que aceitei escrever um livro, Conversas com Marcello Caetano. Devo dizer que comecei o livro convencido que a liberalização se iria efectuar mas, a meio , tomei consciência que o regime não se liberalizaria. Marcello, quando muito, desejaria gerir a própria liberalização, o que era impossível. Em segundo lugar, ele estava convencido que a força estava sempre da direita. Também reparei que ele não estava muito interessado em fazê-la. Um dia disse-me:” Eu já tenho sessenta e alguns anos. Não estou aqui para fazer revoluções. Estuou aqui a ver se equilibro as coisas e nada mais”. Finalmente, o “império” era para ele uma ideia muito forte:”Temos um império que dura há quinhentos anos. Quem quer tomar a responsabilidade de o perder? Eu não”.
Foi neste quadro de circunstâncias e perante o desastre financeiro da Moraes Editores que resolvi então entregar a revista aos seus redactores que se constituiriam em sociedade para a continuar. Eram de tendência maoista na sua maioria e a revista passou para as suas mãos. Como ponto de encontro de várias correntes e que, de certo modo, tinha contribuído para fazer participar os católicos na construção da democracia portuguesa, deixara de ter sentido.
Além de todos os aspectos mais ou menos visíveis da feitura da revista, havia o problema da censura.
A censura o que tinha de pior era a sua completa arbitrariedade. Uma vez, num número de aniversário, as provas da revista vieram quase totalmente cortadas. Resolvi telefonar para lá. Atendeu-me um coronel, a fazer-se simpático – e, se calhar, era – que me disse que ia pedir as provas, para lhe telefonar à tarde. Telefonei. A conversa foi absolutamente de Parque Mayer. Ele disse-me:
- Oh! senhor doutor, desculpe. É que nós nem reparámos que era um número de aniversário! Muitos parabéns!
Então começou a folhear as provas dele e eu a comparar com as minhas. Ele ia dizendo:
- Olhe, este artigo – e dizia o nome – pode publicar, o artigo tal, também pode ser publicado, o tal é melhor ficar cortado.
Havia um artigo sobre o trabalho. O coronel disse-me:
- Este artigo sobre o trabalho é que eu não sei porque é que lho cortaram...
- Eu também não, senhor coronel...
Ainda bem que não sou só eu o estúpido...O senhor desculpe esta brincadeira...
- Ó senhor coronel, isto também não pode ser levado a sério!
Com esta conversa, aliás rara, o texto ficou mais composto.
Ainda no tempo de Salazar, a Sophia traduziu um texto do Shakespeare que terminava assim:
“O fantasma avança – Pára-o! Fá-lo parar, Marcelo!”
A censura cortou esta linha. Por sinal alguns dias depois encontrei o Marcello Caetano na rua e contei-lhe a história. Ele disse-me a rir:
- Sabe, isto é o mal de muita gente ter um nome que vem nos clássicos...
Como vêem, era difícil adivinhar um critério para os cortes da censura e o pior é que as provas tinham de ser apresentadas já impressas.
Uma vez, ainda não existia a revista, conheci um director da censura, cujo nome me não lembra. Sei que não era coronel, era doutor, talvez Martinha ou um nome parecido. Tinha saído um livro com alguma publicidade nos jornais ,mas não era muito significativo porque nunca mais ouvi falar dele. Passava-se em África e, a certa altura, uma branca tinha uma aventura com um preto. O livro foi apreendido e ele explicava-me como se fosse óbvio:”Está a ver: um preto a comer uma branca! Não podia ser!”
A história que agora vou contar diz respeito a outra espécie de censura: nós sabíamos que os nossos telefones estavam vigiados mas quase nunca considerávamos essa intromissão. Já no tempo do Marcello, o João Bénard estava a falar com alguém do Porto, interessado em saber o que se passava por cá. O João disse que estava tudo na mesma e a certa altura terminou com a frase oficial: «Olha cá estamos, “evolução na continuidade”». Aconteceu que estava à escuta um pide incontido que não resistiu e interrompe a conversa:« Engraçadinho...»
Gostava de acrescentar uma coisa sobre a censura: o regime era o seguinte: as publicações periódicas iam à censura prévia e os livros não iam, mas podiam ser apreendidos. Para fugir à censura prévia publicámos dois cadernos de O tempo e o Modo, um sobre “O Casamento”. Se hoje o lermos vê-se que é de uma ingenuidade de catequese. No entanto, o livro foi apreendido. Depois publicámos outro sobre «Deus O que é?» que não foi apreendido.
Além da iniciativa de O Tempo e o Modo, tivemos uma outra que causou muita perturbação na Igreja: a publicação da revista Concilium. Creio que foi aí que a Helena Vaz da Silva revelou pela primeira vez a sua capacidade de organizar e dirigir, pois dela se ocupou inteiramente, o que não era pouco: punha a revista todos os meses na rua e, para isso, coordenava as traduções de compactos textos teológicos, reclamava das tipografias que, por sua vez, reclamavam do dinheiro sempre em atraso.
O Concílio Vaticano II provocou uma viragem significativa na Igreja e, de certo modo, foi o resultado de um trabalho que há muito vinha sendo feito por teólogos, sobretudo franceses, alemães e holandeses – Chenu, Congar, Schillebeeckx, Küng, Rahner, Metz – que até ali tinham vivido num clima da maior suspeição. A sua importância na renovação do pensamento da Igreja creio que é difícil de entender pelas gerações mais novas mas, fundamentalmente, era a abertura à livre investigação e ao livre diálogo, dentro da Igreja, em duas vertentes igualmente férteis: a da investigação da doutrina e a da chamada a uma outra postura do cristão perante os deveres da solidariedade social.
O Vaticano II, em certa medida, consagrou todos esses teólogos «suspeitos» e entendeu-se então que era altura de lançar uma revista internacional que saiu em sete línguas e doze países. A Moraes encarregou-se da edição portuguesa.
A revista não pôde sair com a necessária autorização eclesiástica de nenhum bispo português. O imprimatur foi dado por Dom Aloísio Lorscheider, então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa autorização podia ser dada pelo bispo do país da editora. Combinei com Dom Helder Câmara, ao tempo arcebispo do Recife e Olinda, uma sede fantasma na sua casa do Recife para podermos obter a autorização no Brasil. Essa é a razão por que a revista tem indicação de Moraes-Editores – Lisboa-Recife. O primeiro número foi publicado em Janeiro de 1965.
A respeito de imprimatur, as nossas relações com a Igreja foram sempre insólitas e, no fundo, o meu único interlocutor mais acessível e inteligente era o Cardel Cerejeira. Uma vez recebi uma carta do Bispo de Lisboa, D. Manuel dos Santos Rocha, dizendo-me simplesmente que não dava mais imprimatur à Editora Moraes. Isto canonicamente era um erro que nos colocava na situação de não poder publicar o Novo Testamento. Falei com o Patriarca, que procurava resolver estas situações. Esta foi uma das que resolveu. Como vêem, além da estrutura global em que estávamos metidos, havia este sem-número de casos que me faziam lembrar a frase de S. Francisco de Sales: «As moscas incomodam não por ser grandes mas por serem muitas».
A par da religião, a Helena organizou o grupo dos «Amigos da Concilium que promoveu colóquios em Lisboa e no Porto, onde vieram, entre outros, teólogos como Hans Küng, Schillebeecks e Leo Alting von Geusau.
A Concilium não chegou a atingir mil assinantes e a Herder, de São Paulo, era chefiada por um alemão que tinha a mania que era esperto . Começou por comprar uma centena de exemplares e, en cada encomenda, pedia redução no preço. Passados três anos, vimos que não era possível manter a revista. Foi assim que a Herder de São Paulo ficou com a edição em português e nós eramos tão bonzinhos ou tão parvinhos que ainda lhe mandámos a lista dos assinantes!
Dentre todos esses teólogos que conheci, não esquecerei a personalidade modesta, bondosa e afável do Pe.Chenu, de quem conservei algumas palavras numa carta que me escreveu mas que agora não encontro. De todos esses teólogos foi o que me deu mais a ideia de acreditar em Deus. Os outros, não obstante a simpatia de muitos deles (Hans Küng, por exemplo, prescindiu sempre dos direitos de autor dos seus textos que aqui lhe publicávamos: «não é pela importância – dizia - é pelo gosto de estar ligado àquilo que vocês estão a fazer», na generalidade davam-me a impressão de serem uns intelectuais «especializados naquela matéria», bastante senhores de si, que não conseguiam esconder o grande prazer de serem as vedetas da teologia moderna, publicitados nos jornais, nas televisões, nas capas das revistas, quando, possivelmente, não esperavam outro destino senão o de serem uns padres obscuros a ensinar seminaristas numa parte escondida do mundo.
Nunca mais soube deles, embora o Leo von Gesau, uma espécie de boémio de Deus, tivesse ficado muito meu amigo. Na verdade, o Vaticano II, ao consagrar na prática a sua teologia, tirou-lhe muito da sua notoriedade.
Absolutamente por acaso, aí por 1993, tive notícias do Leo. Participava numa reunião do Centro Europeu de Fundações, em Bruxelas. A representar uma fundação holandesa estava um senhor com um ar muito importante, chamado também von Gesau. Num dos intervalos, fui ter com ele e perguntei-lhe se tinha algum parentesco com Leo, teólogo, que eu conhecera há mais de trinta anos e que devia ser da minha idade. Ele fez uma cara muito triste, e como se me falasse de alguém que dera um mau passo na vida, contou-me que o Leo era seu irmão, que tinha ido para a Indonésia, que casara com uma javanesa e que estava à espera de um filho. Enquanto o irmão me falava com um evidente pesar, eu dizia para comigo que o Leo, felizmente, continuava a viver com os olhos para fora do mundo.
Como disse já, este panorama ficaria incompleto se não fizesse referência à “Association Internationale pour la Liberté de la Culture”.
Nos meus contactos com intelectuais franceses , pude dar-me conta de se ter gerado algum interesse nesses meios por apoiar a nossa acção. Jean-Marie Domenach chegou a fazer uma circular para pedir ajuda para a revista (circular de que tivemos conhecimento através de um secretário do Ministro do Interior que a tinha recebido da Pide no gabinete. Tenho pena de não saber o nome dele porque gostaria de lhe agradecer).
Nesses meios tinha ficado a ideia da nossa necessidade de ajuda e, em França, algumas pessoas ficaram interessadas na acção que estávamos a fazer.
Um dia veio a Lisboa, numa visita de trabalho, o sociólogo francês Cuisinier que me entregou uma carta de Pierre Emmanuel, presidente da Association, onde me pedia para o contactar numa próxima visita a Paris. Daí criámos uma grande amizade que hoje posso recordar como um dos grandes privilégios que tive.
Regressado a Lisboa, com o prometido apoio da Association, combinámos, entre algumas pessoas e forças políticas, constituir um grupo – Comissão Portuguesa para as Relações Culturais Europeias – que seria o órgão consultivo da ajuda que nos era dada. Se a memória me não falha, além de mim e do João Bénard da Costa, faziam parte deste grupo os seguintes: Luís Lindley Cintra (que chegou a pertencer ao Comité director em Paris), José Ribeiro dos Santos, Joel Serrão, José Cardoso Pires, Adérito Sedas Nunes, Miller Guerra, João Salgueiro, José Augusto-França e, mais tarde,o padre Manuel Antunes, Maria de Lourdes Belchior, João de Freitas Branco, Nuno de Bragança e José Palla e Carmo.
O João Bénard secretariava, primeiro na redacção de O Tempo e o Modo, e, mais tarde, no Centro Nacional de Cultura. O nosso orçamento anual, cuja quantia me não lembro já, dava para apoiar bolsas de estudo e viagens, participação em seminários estrangeiros, assinaturas de jornais estrangeiros, apoio a certos livros da Moraes Editores, etc.
Além da ajuda material, esta acção permitiu a muitos intelectuais portugueses formas de intercâmbio com os centros culturais europeus, que os fizeram sair do gueto em que estávamos metidos e lhes deu ocasião para participar em núcleos de diálogo com a cultura europeia, nomeadamente com os intelectuais de países sem liberdade, do Leste, da Espanha e da América Latina.
Esta comissão, além do apoio que pôde dar a iniciativas que não teriam outras fontes de financiamento, foi também um lugar de encontro entre pessoas de várias ideologias e mais uma presença dos católicos na acção de oposição ao antigo regime.
Sem nenhum ressentimento pessoal mas com a preocupação, que julgo útil, de fazer um balanço ao que significou toda esta aventura, gostaria de dizer ainda que vários e contraditórios sentimentos se cruzam em mim, sempre que tento fazer esta reflexão. Por um lado, não posso deixar de ser sensível a certos depoimentos das gerações que nos seguiram, para quem essa aventura foi um acontecimento-referência que acordou alguns e confortou outros perante um tempo carregado de dúvidas e inquietações. Não sei se isso se passou só no plano da verbalização das ansiedades ou se terá produzido algum efeito mais profundo e mais comprometedor. De todos esses depoimentos, talvez o que mais me impressionou tenha sido o de um oficial, dos que tinham feito a Revolução de Abril, que um dia me encontrou e, sem me conhecer, veio ter comigo e me disse: “Tenho que lhe agradecer a sua revista, porque estava lá em África, no meio do mato, e só através de OTempo e o Modo tomei consciência do que por aqui se estava a passar”.
Mas não sei se isso chega para me redimir de alguma má consciência por ter entrado numa aventura que muito serviu para desculpabilizar alguma burguesia portuguesa incomodada, cujos problemas de consciência parece que estávamos incumbidos de resolver sem qualquer contribuição da sua parte.
Independentemente da má gestão administrativa, esta aventura falhou porque a camada da sociedade portuguesa a quem ela se dirigia recusou frontalmente a sua colaboração e não esteve disposta a correr nenhum risco nem, na prática, se sentiu minimamente solidária com o esforço que estava a ser feito.
Lembro-me de algumas histórias que revelam esse estado de medo e de insegurança, mas também da passividade com que reagiram a uma acção que lhes permitia ficarem em casa de consciência tranquila.
Quando a revista passou para as mãos dos “maoístas”, recebi um telefonema de uma senhora com altos cargos na Acção Católica, que me dizia, com uma voz muito séria, que eu não tinha o direito de deixar a revista, que eu era uma pessoa com grandes responsabilidades neste país. Disse-lhe: “Desculpe, mas não percebo este telefonema. O Tempo e o Modo durou seis anos, eu perdi com ele setecentos contos e você nem sequer era assinante. Tem que me explicar qual a razão por que é que eu, à minha custa, tenho que resolver os problemas de consciência daqueles que andam a tratar da sua vida”.
O medo era tal que as pessoas nem o disfarçavam. Quando assinei um papel contra a guerra colonial, recebi um telegrama a louvar a minha coragem assinado por um “anónimo do Porto” e, uma vez, encontrei um na rua que se me dirigiu e me disse: “Dou-lhe os meus parabéns pela sua revista. Sabe, eu não sou assinante mas compro sempre nas livrarias, porque tenho medo que vá lá a Pide buscar o ficheiro dos assinantes”.
A situação económica da Moraes ia-se deteriorando. Os livros vendiam-se muito pouco, as dívidas acumulavam-se. As assinaturas da revista andavam à volta de setecentas e a tiragem nunca ultrapassou os mil e quinhentos exemplares. A revista durou seis anos, os cortes da censura eram numerosos e, como já disse, os textos tinham que ser submetidos a “exame prévio” já impressos em provas. Pode imaginar-se o que a revista custava. Julgo que O Tempo e o Modo deu um prejuízo de setecentos contos, dinheiro de 1969, mais ou menos doze mil na data em que escrevo (1989).
O dinheiro para tudo isto tinha como origem o que era meu e o crédito que consegui em vários bancos onde tinha amigos pessoais que iam descontando letras e livranças. É justo lembrar alguns amigos que emprestaram dinheiro conscientes de que ficaria naquela voragem: em primeiro lugar o Domingos Megre, a seguir o José Luís d’Orey, o Dr. Alfredo Maria Cunhal, o Fernando Pizarro, o Miguel Caetano, o João Botequilha e o Eduardo Gomes Cardoso.
Por volta de 1972, quando a Moraes já tinha muitos milhares de contos de dívidas, tive a extraordinária colaboração destes três últimos, que não se limitaram a emprestar dinheiro mas, todos os dias, ao fim da tarde, estavam na Moraes a estudar a sua viabilidade. Chegaram à conclusão, depois de muito trabalho, de que era aconselhável e necessário liquidar a sociedade e acompanharam-me no acordo que fiz com os credores.
Ainda num gesto amigo, o Prof. Teixeira Pinto, que estava à frente da Sociedade Financeira Portuguesa, comprou a sociedade por 25% do seu passivo. Pagou-se, creio, a todos os fornecedores e a banca recebeu 25% dos seus créditos. Muitos avales pessoais ficaram a meu cargo e durante cerca de vinte anos descontei parte do meu ordenado de funcionário público para pagamento desses avales. Devo à gerência do Dr. Alípio Dias, no Banco Totta & Açores, o favor de ter chegado a um acordo comigo , senão estaria a minha vida toda a pagar esses avales.
Por curiosidade acrescento que, quando era ministro das Finanças, o João Dias Rosa autorizou a Sociedade Financeira a fazer a compra mas, logo que ele saiu, o ministro seguinte, Manuel Cota Dias, como a editora tivesse publicado um livro do Francisco Sá Carneiro, obrigou a Sociedade Financeira a vender a Moraes. Jorge de Brito, que então era proprietário do jornal O Século, comprou-a através daquele jornal.
Quero dizer ainda que, sob o ponto de vista pessoal, esta experiência, apesar de difícil e dolorosa, foi muito importante e enriquecedora para mim. Em primeiro lugar, curei-me inteiramente da minha má consciência de fazer parte da “minoria privilegiada” e passei a considerar que os meus privilégios não têm nada a ver com o dinheiro e muito menos são fontes de opressão seja de quem for. Uma outra razão – talvez a principal – esta saída para a Moraes foi efectivamente uma saída do sistema e de uma carreira que não me daria a paz e a serenidade que procuro. Embora hoje não tenha razão de queixa em relação ao dinheiro, a experiência do despojamento é extraordinariamente salutar em relação aos verdadeiros objectivos da vida.
É, como disse, sem qualquer ressentimento que escrevo estas considerações finais. O que me parece necessário é procurar as razões profundas que levaram a sociedade portuguesa, sobretudo as suas elites, a submeterem-se inteiramente a um regime que afinal mostrou serem muito frágeis os alicerces em que assentava o seu poder.
Eu sei que, nestas épocas da história, nomeadamente quando se não vive em situação de miséria e opressão extremas, não se pode contar com epopeias. Mas julgo que não se pedia muito: não se pedia para enfrentar os tanques russos como na Hungria de 56 ou na Checoslováquia de 68. Pediam-se coisas acessíveis, pequenas formas de recusa ou de compromisso tão simples como a assinatura de uma revista ou a compra de um livro. Parece que as pessoas preferiram jogar na bolsa, indiferentes a coisas tão importantes como o facto de deixarem, durante doze anos, os seus filhos mergulhados numa guerra absurda, entre o absurdo de matar e o absurdo de morrer.
Continuo a perguntar-me – e confesso que não encontrei resposta – sobre a razão desta falta de coragem cívica que me parece irrefutável. Houve, ao longo de todos estes anos, muitos exemplos de coragem e de espírito de sacrifício pessoal , mas não conseguimos descobrir, com muito raras excepções, não sei onde a escondemos, a coragem cívica. Não quero cair na ingenuidade de explicar tudo isso pela cobardia pessoal , mas deve haver qualquer coisa de muito profundo para justificar esta situação de letargia colectiva. Talvez o estarmos perante uma sociedade totalmente desencantada e descrente, onde o povo encontrava na emigração a sua única esperança de futuro, e as elites, na manutenção cega dos seus privilégios, os seus únicos e curtos horizontes.
O filósofo espanhol Julian Marias, discípulo de Ortega y Gasset, conta nas suas memórias – Uma Vida Presente – que, por volta de 1943 ou 1944, veio a Lisboa visitar o Mestre que aqui se encontrava exilado. A certa altura perguntou-lhe o que pensava de Salazar. Ortega respondeu: “Bom para governar oito milhões de moribundos...”
É possível, numa visão optimista, que o choque da liberdade os tenha restituído à vida.