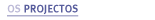Miguel Caetano
Gostaria de ter relido os livros do Alçada Baptista, de ter procurado em velhos apontamentos datas que melhor situassem a nossa relação, talvez, até, tentado contextualizar a nossa relação nos ares do tempo. Mas vou deixar correr a minha memória, sem preocupações de total exactidão no que vou recordar e permitindo que a afectividade preencha as lacunas que me forem surgindo. Creio que o António até gostará mais assim.
O António é oito anos mais velho do que eu e conheci-o porque ele era amigo da minha mulher, que conhecera, era ela miúda, nas Penhas da Saúde, por cima da Covilhã. Quando casei, habituei-me a encontrar o António lá pela Serra da Estrela. Eu já o conhecia de nome, pois quando comecei a trabalhar, no final dos anos cinquenta, o Alçada e outros, vindos dos movimentos católicos, tornaram-se subitamente importantes para mim. Por causa das eleições do Delgado e do caso do Bispo do Porto, um grupo de gente com quem eu facilmente me identificava por formação, assinou um documento questionando o Governo sobre várias questões, sobre liberdade e justiça social, obrigando-me a interrogar-me também. Naquele tempo e no nosso País tal significava pôr em causa a cumplicidade existente entre a Igreja Católica e o regime autoritário do Estado Novo. Na mesma época surge o Papa João XXIII, que convoca o Concílio Vaticano II, abrindo novos horizontes aos movimentos de renovação da Igreja Católica.
Não sei em que ano é que o António deixou a advocacia e se lançou na aventura da Moraes, editores e livreiros, à sombra da qual nasceram as revistas O Tempo e o Modo e Concillium, para além de ter editado livros marcantes para a nossa geração. Sei que aqui se reuniu um grupo, que já anteriormente existia, onde identifico, apenas por serem aqueles que me estão mais próximos, o João Pedro Bénard da Costa e o Pedro Tamen, amigos e colegas de tempos diferentes. Estes e outros constituíram com o António o núcleo inicial de O Tempo e o Modo. Entretanto, eu fora viver para a província, por razões profissionais, e aquelas revistas ganharam para mim a maior importância, pois eram uma fonte de informação sobre o que se estava a passar em Lisboa nos meios que mais me interessavam. No verão, durante as minhas férias, encontrava o António e a Zézinha na Serra da Estrela, o que nos permitia alguns serões de conversa, amena e amiga, mas em que sempre me ia informando mais directamente do que me interessava.
Os nossos campos de acção eram muito diferentes: o António e o seu grupo viviam muito à volta da problemática do personalismo cristão, de Emmanuel Mounier, e eu estava muito mais envolvido na transformação pelo desenvolvimento económico-social, conjuntamente com pessoas como a Manuela Silva e o João Salgueiro, mas naquela altura as diferenças esbatiam-se muito em função de objectivos comuns. Aconteceu até, que aí por 1965, tendo eu passado por Lisboa e almoçado com o João Salgueiro, este me disse que tinha sido desafiado para assinar um documento pedindo o regresso do Bispo do Porto, documento esse que estava nas instalações da Editora Moraes, no final da Av. 5 de Outubro, já perto de Entre-Campos, e me perguntou se eu não queria acompanhá-lo. Lá fomos os dois, demos com o João Bénard e assinámos (o João Bénard não se lembra, mas esta assinatura trouxe-me alguns incómodos posteriores e mereceu-me algumas atenções pessoais do Senhor D. António Ferreira Gomes, depois do seu regresso à diocese do Porto).
Voltei a viver e trabalhar em Lisboa e o contacto com o António estreitou-se. A sua influência nos meus anos de ausência fora importante para mim, pois as suas revistas, os livros lançados pela sua Editora e as nossas conversas mantinham-me alertado para as novas correntes de pensamento e para outras realidades políticas. Não era a única fonte, mas era uma das mais importantes. Em Lisboa, na nova fase, talvez a partir de 1967, falávamos de liberdade e igualdade. O António mais de liberdade, pois já nessa altura dava uma importância primacial à democracia, e eu mais de igualdade, tentado pelo que então se chamava de socialismo cristão. Em conjunto, ambos pensávamos que era necessário um novo regime político em Portugal e que tínhamos que contribuir para isso. Através do António aproximei-me também do José Pedro Pinto Leite, que eu já conhecia da Faculdade.
Nessa altura eu julgava que o António era um editor de sucesso e, admirando a sua acção e a influência que tinha tido na formação de uma geração, propus-me entrar para sócio da Moraes e colaborar na gestão e desenvolvimento da Editora. “Não te metas nisso que as coisas estão muito complicadas”, disse-me ele. E assim ficámos mais uns tempos.
Entretanto a era de Salazar chegou ao fim e coube ao meu pai, Marcello Caetano, substitui-lo na Presidência do Conselho. Eu, embora tivesse decidido “neutralizar-me”, acompanhei com esperança a primeira fase, a da chamada “primavera marcelista”. O António conhecia Marcello Caetano, de quem fora aluno e por quem tinha respeito e admiração, e era amigo de José Guilherme de Melo e Castro, que rapidamente foi chamado para colaborar na liberalização do regime. Fiel às suas convicções, o António apresentou-se nas eleições de 1969 como candidato pela oposição, pela CEUD, no distrito de Castelo Branco, juntamente com José Rabaça, Domingos Megre e João Vieira, mas acompanhou com o maior interesse e, talvez com alguma intervenção, a constituição do grupo mais tarde chamado de “ala liberal”, que se candidatava pela União Nacional com intenção de ajudar a transformar por dentro o regime. Para além de José Pedro Pinto Leite, que rapidamente assumiu papel de liderança, surgiu também o seu amigo Francisco Sá Carneiro entre os de maior intervenção na nova Assembleia. Numa época em que se pensou que muitas coisas seriam possíveis, o António voltava às vezes de uma sessão de campanha em Castelo Branco e ia conversar com o seu amigo Melo e Castro sobre as perspectivas de transformação que se desenhavam.
No princípio da década de setenta voltámos a conversar sobre a Moraes. Contou-me então o António das dificuldades que a empresa atravessava, onde praticamente já tinha perdido toda a sua fortuna pessoal (na Empresa e nas suas revistas, O Tempo e o Modo e Concillium), criando dívidas junto da Banca e de alguns amigos para fazer face ao dia a dia empresarial. Os únicos sócios da Livraria Moraes Editora eram, então, o António Alçada e o Pedro Tamen, que na altura se encontrava mobilizado em África. A situação do António e a ideia de que uma editora era um importante instrumento de intervenção levaram-me a mobilizar dois amigos, ambos com provas dadas em gestão de empresas, o Eduardo Gomes Cardoso e o João Botequilha, para tentarmos dar a volta à Moraes. Trabalhámos afincadamente com o António, desfizemos a contabilidade da Empresa para conhecermos a real situação, estudámos diversas hipóteses de relançamento. A certa altura o António disse-nos que o Francisco Sá Carneiro também estaria interessado em se associar connosco no acompanhamento da gerência da Moraes e chegámos a minutar um contrato que terminava com a possível compra da Livraria Moraes Editora, Lda. Infelizmente, a situação financeira apresentou-se-nos como irrecuperável, pelo que nos oferecemos para acompanhar o António numa ronda pelos Bancos credores, que eram muitos, negociando com cada um a moratória possível e preparando-os para o pior. Este convívio com o António, em tão difíceis condições, criou uma amizade e intimidade que nos acompanhou toda a vida.
O António Alçada foi um aventureiro, com tudo o que isso implica de imaginação, fantasia, gosto pelo risco. Procurou sempre novos caminhos, nunca recusando pôr-se em causa e pôr, por isso, os outros em causa, não aceitando ideias feitas. Marcado o rumo que lhe parecia correcto, ia-o percorrendo sem se preocupar muito com as possíveis consequências.
Através dele e com ele vivi algumas das aventuras mais curiosas, divertidas e enriquecedoras da minha vida.
Da aventura da Moraes apenas apanhei os restos, mas o que vi deu para me aperceber como o António tinha abandonado uma vida tranquila por uma actividade que lhe dava imenso gozo mas onde arriscava tudo o que tinha e que não tinha ao serviço de um ideal.
Passámos a reunir com frequência, entre 1970 e 1974, para discutir os problemas do País e do Mundo, o António, o João Botequilha, o Eduardo Gomes Cardoso e eu. O António estava a habituar-se a um novo estilo de vida, a que ele chamava de “novo pobre”. Trocou um belo carro por um dois cavalos, fumava uns cigarros horríveis, os “Provisórios”, comia em tascas. Arranjara um escritório/apartamento perto da Rua da Escola Politécnica, onde fazíamos regulares reuniões nocturnas, bebendo uns chás de ervas que o António transformara na sua bebida preferida.
Com ele aprendi a pôr em causa os entusiasmos “Sartrianos”, a curiosidade pelos modelos marxistas-leninistas, mesmo nas versões revisionistas de Althusser, ou o excessivo interesse pelo pensamento estruturalista de Foucault, pois logo me alertou para os trabalhos de Cornelius Castoriadis e do seu grupo Socialisme ou barbárie. Com ele viajávamos de Lisboa para Paris e daí para o Rio de Janeiro, em espírito, pois continuávamos no escritório da Politécnica, ouvindo histórias sobre toda a intelectualidade, que o António conhecia pessoalmente, sempre saborosamente contadas e a propósito de temas da actualidade. Conhecemos o Monod do Le Hasard et la Nécessité e o Edgard Morin do Paradigme Perdue (este, também em carne e osso, em casa do Alçada), vivemos o entusiasmo do António com a reforma da educação que Veiga Simão procurava lançar e com quem o António passara a colaborar intimamente (terminada a Moraes, fora trabalhar para o Ministério da Educação).
E com ele começámos nova aventura: Lanza del Vasto e as comunidades. O António achava então, e deve continuar a achar e com toda a razão, que a civilização industrial e a sociedade de consumo eram, como existiam e existem, um erro de percurso na História da Humanidade. E o seu espírito aventureiro levou-o a partir para França, para conhecer Lanza del Vasto e visitar a sua comunidade, L’Arche, como modelo de algo a lançar em Portugal. Assistimos aos preparativos e beneficiámos das descrições no regresso. Mais tarde, já depois do 25 de Abril, o António fez a experiência da vida comunitária numa quinta ali para os Capuchos, junto a Sintra (aí o visitei, tendo ajudado a partir lenha e discutido o grave problema da capoeira ter mais galos do que galinhas, dado um pequeno engano na escolha dos pintos).
Ainda nestes princípios da década de setenta, continuávamos a encontrar todos os verões na Serra da Estrela, onde o António construíra uma casa, incrustada nas rochas, e com um escritório separado da casa e para onde só se ia por uma ponte. A Serra era mais uma das suas utopias, de isolamento e de regresso ao mundo rural, que teve que abandonar por causa dos saltos da sua tensão arterial, mas que tentou continuar poucos anos depois numa quinta da Covilhã, onde ainda viveu alguns meses, sempre idealizando e experimentando, como se lhe fosse possível viver afastado do mundo intelectual lisboeta. Mas voltando à Serra, aí continuavam as nossas conversas ao serão e assistimos ao parto da sua primeira Peregrinação Interior, livro que vivemos como se em parte fosse nosso. Foi por essa época que o António me apresentou o seu grande amigo, quase irmão, José Rabaça, alargando a nossa fraternidade a mais um, que se tornou tão importante para a minha vida como já era para a dele desde a juventude.
E veio o 25 de Abril. E desde já se diga que, num momento difícil para mim, a solidariedade do António se afirmou de imediato. E há alturas em que é bom sentir que se tem amigos e, felizmente, não tenho razão de queixa.
Fomos convivendo, eu aproximando-me a pouco e pouco de um grupo do Partido Socialista, à volta de Salgado Zenha, enquanto o António, em mais uma afirmação da sua liberdade de espírito e das suas convicções democráticas, foi ajudar a fundar o CDS, pois não podia haver verdadeira democracia em Portugal se não existisse um partido político que integrasse a direita. Nesse projecto colaborou e até ajudou à constituição do II Governo Constitucional, uma coligação PS-CDS.
Tenho evitado falar da biografia do António fora daquilo que foram as nossas vivências comuns ou convividas. Passo por cima da sua acção como jornalista, director de jornais, presidente do Instituto do Livro, etc., de que outros falarão. A nossa relação continuou naqueles últimos anos da década de setenta através de encontros vários, agora quase sempre com a presença do Zé Rabaça. Em 1980, quando o Zé, o João Botequilha e eu fazíamos parte das estruturas directivas da CNARPE, uma comissão criada para apoiar a reeleição do Presidente Eanes, e o António estava ligado à AD – Aliança Democrática, que apoiava o outro candidato, General Soares Carneiro, resolvemos ir os quatro almoçar num restaurante em evidência, para demonstrar como a amizade se sobrepunha a todas essas coisas. Assim fizemos e, depois do almoço, o António fez questão em ir visitar a sede da candidatura adversária, aí nos acompanhando. Felizmente, como ele dizia, que foi logo reconhecido, e que algumas das jovens da recepção se precipitaram para o beijinho da ordem no tio António. Éramos assim e depois, a pouco e pouco, fomo-nos reformando, não da amizade, mas das muitas actividades. O nosso Zé morreu, tal como a Zézinha, e agora juntamo-nos algumas vezes, com a presença da Manel.
Falamos do presente, do passado e do futuro, que também já foi. Mas foi giro.
Com um abracinho, como diria o José Rabaça, do
Miguel Caetano